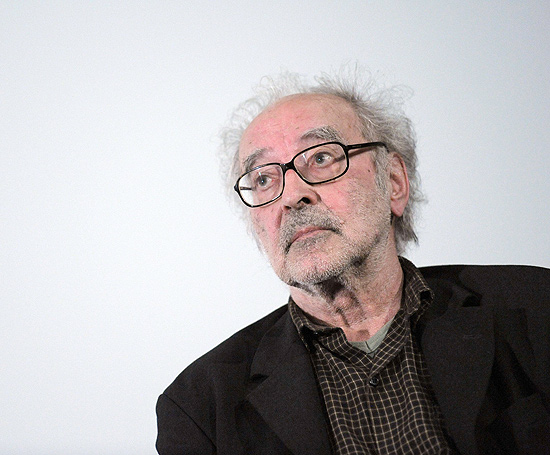O húngaro Béla Tarr é um cineasta único, dos
mais importantes do cinema contemporâneo, pelo que a estreia do seu último filme “O Cavalo de
Turim”/”A Torinói ló” (2011), co-Agnés Hranitzky, é um verdadeiro acontecimento. Senhor de um estilo radical único, ele
tem criado filmes prodigiosos de exigência e rigor estético, que levam a um
ponto extremo a proposta de trabalhar com base em planos longos, o que
torna cada um dos seus filmes uma aposta extremamente arriscada mas até hoje
sempre ganha. Deste “Sátántangó” (1994) que assim tem sido, sem retrocessos nem
progressos visíveis (esse continua a ser o seu melhor filme) mas com uma
insistência que, aliada á variação dos assuntos, faz com que ele avance sempre e consigo nos continue a arrastar.
Muita
gente não gostará de se ver metida num filme com escassa acção, com
pouquíssimas personagens, com raros diálogos e uma voz-off narrativa que em vez de esclarecer às vezes mais parece complicar.
Apesar disso, e com isso, “O Cavalo de Turim” é um filme
luminoso na obscuridade aparente do seu preto e branco, que sucede a “O Homem
de Londres”/”A Londoni férfi” (2007), baseado no romance de Georges Simenon e
que é o mais inesperado dos filmes a partir da obra do grande escritor belga
– que já foi considerado o mais importante escritor existencialista. Não quero
usar lugares comuns, mas devo dizer que o uso do plano-sequência nestes dois
filmes leva o cineasta e o cinema para um plano de metafísica da forma, que faz
com que se coloque a questão, mais do que daquilo que o olhar pode suportar em
plano longo, daquilo que só no plano longo pode ser bem expresso, mostrado e dito
no cinema.

Não
sou, nem penso que se deva ser, um defensor acérrimo do plano-sequência no
cinema, mas conhecendo como conheço outros usos que dele têm sido feitos no
cinema contemporâneo não terei dúvidas em afirmar que o caso de Béla Tarr é
único e exemplar na sua intransigência criativa, na perseguição de alguma coisa
que em cada filme só dessa forma pode ser captado, formulado e transmitido.
Neste caso o trajecto do filme é verdadeiramente exemplar, pois partindo de um
momento fundamental (e final) da vida de Friedrich Nietzsche, narrado em voz-off sobre fundo negro sem ser
mostrado, em que o filósofo tenta proteger com o seu corpo um cavalo que está a ser chicoteado, ele vai na outra direcção, a do cavalo e do seu cocheiro, para os
seguir nos caminhos de veredas e trevas que vão percorrer em seis dias.
Ora
ao fazê-lo poderá admitir-se que o cineasta está a falar do pensamento do
próprio Nietzsche, que a partir daí se deteve pois em seguida ele perdeu o uso da razão, para dele fazer uma interpretação
fria e desapiedada que vai levar as suas personagens, o filme e os espectadores a um impasse: o impasse que veio a ser o século XX. Nesse sentido, há o
monólogo sobre vencedores e vencidos no final do segundo dia, a visita
inesperada e indesejada dos ciganos no final do terceiro dia, o poço tapado no
início do quarto, que vai concluir-se sobre a partida e o regresso de pai,
filha e cavalo no mesmo plano fixo, os dois últimos
dias de andar às cegas no escuro, enquanto como nos dias anteriores pai e filha se afastam ou se aproximam da câmara.

Só
que isto dito não se disse nada, pois o filme se estrutura todo ele sobre os
corpos, os movimentos das suas personagens centrais (e quase únicas), pai e
filha, de tal modo que os podemos entender como corpos e seres primordiais que
se debatem no seu isolamento e na sua solidão absolutamente sem saída,
mas que ao fazê-lo no quadro de planos longos, normalmente com profundidade de
campo sobre os interiores ou sobre o exterior desértico, nos transmitem a
sensação de estarmos a ver corpos humanos em movimento, deitados, sentados, de pé,
inclinados pela primeira vez, como que movidos por um motivo que
lhes escapa e nos escapa a nós também.
Talvez
seja por isso mesmo, pela exposição de movimentos amplos ou ínfimos do corpo
humano no tempo, que “O Cavalo de Turim” na senda dos filmes anteriores do
cineasta não aponta para um realismo imediato, a que tem sido tradicionalmente
associado o plano-sequência com profundidade de campo, mas parece antes
enveredar por uma espécie de abstracção dos corpos, dos seres e dos movimentos
que como que se desenrolam no vazio, no nada das suas trevas interiores - a que correspondem as trevas
exteriores -, sem motivações próximas ou distantes que não sejam aquelas que,
secretas, encontram em si próprios, no seu ser, existir no nada. E nem sequer
se trata de um abjeccionismo, como poderia acontecer com outro cineasta, já que
tudo decorre dentro de limites muito apertados em que apenas é dado às
personagens existirem, sem porquê nem para quê.

Talvez
por isso, há quem refira a propósito de Béla Tarr um expressionismo do
plano-sequência, em que ganham forma seres quase inexistentes, suspensos entre
o ser e o não- ser, na fronteira do ser e do absoluto não-ser, auto-movidos de
um modo simples, conturbado e sem razão aparente, de tal modo que os torna
comoventes no seu ser dobrados sobre si próprios que é um ser dobrado sobre o
seu tudo, o seu todo, e o nada dos outros, nos limites de uma indizível solidão
existencial que os torna como que os últimos e os únicos habitantes daquele
universo (1). E de facto tudo se transforma e transtorna no quadro de planos longos
com profundidade de campo, ocasionalmente mitigada, em que os seres assumem um
estatuto de ser consigo próprios e um com o outro em pura sobrevivência aos
pequenos e maiores acontecimentos do quotidiano, assim tornado poético no seu
vazio sem remissão.
A
poética do plano-sequência que aqui se impõe como pertinente é assim a do vazio
preenchido por sombras, sombras de sombras sombrias, para as quais a questão
que se coloca é a de recomeçar no dia seguinte, como acontece no final do
quinto dia perante a impossibilidade de acender uma simples luz que ilumine a
noite. Mas não são estes seres, sombrios e únicos na sua solidão, uma réplica
perfeita de cada um de nós? Não é o horizonte deles o nosso próprio horizonte
existencial? Só que nós, invadidos e rodeados pelos estímulos de toda a ordem
que nos vêm do exterior, e dos quais fazemos por participar, não damos ou não
queremos dar por isso, no final do século XIX como no início do século XXI,
impotentes para criar ou meramente condicionar o que quer que seja em nossa
volta. É que a luz que as personagens não conseguem acender no fim do quinto
dia é precisamente a “pequenina luz bruxuleante” de que falava Jorge de Sena,
um poeta conhecedor do ofício de trevas, uma luz que faltou a Nietzsche naquele
dia 3 de Janeiro de 1889 em Turim e que a nós nos falta todas as noites, sem embargo do
que devemos tentar acendê-la no dia seguinte, sob pena de continuarmos máscaras
baças que dia a dia traficam a passagem ao dia seguinte ("Depuz a mascara, e tornei a pol-a./Assim é melhor./Assim sou a mascara.//E volto à normalidade como a um terminus de linha." - Álvaro de Campos)

Ora
é essa redução ao essencial, que rejeitamos e não queremos reconhecer, que “O
Cavalo de Turim” à semelhança dos outros filmes do cineasta nos aponta e
sugere, sem qualquer sombra de compadecimento mas também sem qualquer réstea de
comprazimento. A seco tudo é mais claro, mais puro, mais reduzido ao osso e
sempre sem saída alguma, no que continua a residir o génio único de Béla Tarr,
um cineasta que é preciso conhecer e amar, até porque já serviu de inspiração
para outros, como é o caso de Gus Van Sant, que admitiu ser influenciado por ele
pelo menos desde “Gerry” (2002) – o que só vem demonstrar que também os grandes
cineastas sabem escolher as suas influências. Aliás, o uso que este cineasta
húngaro faz do plano-sequência pode ser considerado como inspirado nos filmes
do seu compatriota Miklos Jancsó, grande cineasta do plano-sequência ele
também, embora os seus filmes fossem muito diferentes dos de Tarr.
Béla Tarr diz que este será o seu último filme. Espero bem que seja uma despedida como a de Ingmar Bergman foi em 1982, e que para nosso encantamento, inquietação e muito proveito ele regresse, regresse sempre ao cinema, de que é uma figura maior.
Nota
(1) Sobre a separação entre a "vida" e o "todo" na modernidade, ver João Barrento, "O Género Intranquilo" - anatomia do ensaio e do fragmento", Assírio & Alvim, Lisboa, 2010, pág. 25, com citação de Robert Musil.